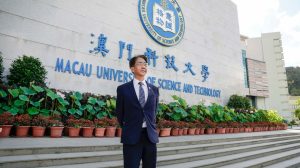Seja porque 1999, o ano do retorno de Macau, se revelou um ano fantasma sem tragédia nem consequência, seja porque o novo poder reiterou a importância histórica da comunidade, dez anos depois da transição político-administrativa os macaenses aí estão: pujantes, descrevem uns, mas sobretudo, estão. Iguais a si próprios, repetindo o que a História lhes ensinou. Por isso, sobrevivência e recomposição são palavras que descrevem, sem eufemismos, o estado da comunidade no fim desta década desigual.
Futuro incerto
Bastaria elaborar uma pequena cartografia da sociedade civil de Macau para facilmente concluir que, embora redimensionada, a comunidade macaense mantém algum protagonismo na Região. É consensual que faltam liderança política ou dimensão intelectual, mas essa falha acabou por ser compensada pela capacidade de influência que ainda mantém, pela abertura ao mundo que as novas gerações trouxeram, pela conservação de uma consciência de lugar, de identidade e de património cultural. Sobreviventes, portanto, à enésima mudança, e pujantes, como refere a historiadora e investigadora Tereza Sena: “A afirmação dos seus valores e reconhecimento deles pela própria RAEM é uma realidade. E a comunidade está aí. Pujante”. Tal como em todas as mudanças, os macaenses souberam desenhar uma estratégia e fazer valer “o seu peso histórico, o peso da sua acção mediadora, da sua residência e pertença ao local por 450 anos, de consideração desta como a sua terra, da contribuição da comunidade para a prosperidade e manutenção do statu quo da RAEM e da capacidade de colaboração com a administração chinesa”. Em suma, redefinir o seu lugar na nova situação. O processo foi lento, calculista, tímido, tenso. Começou assim mesmo, tenso, com a insegurança herdada do clima social vigente em finais dos anos noventa, feita de incerteza política, criminalidade entre tríades e economia deprimida. Um cocktail que a simbologia e o discurso milenarista do fim de império viria a agravar. Era o fim. A sensação de esgotamento e orfandade atravessava os espíritos e este caldo cultural levou a novo êxodo entre a comunidade.
Lugar ao sol
Como alguns portugueses, muitos macaenses decidiram também partir. Não foi mais que um epifenómeno, porém. Passados os meses e sob a acção do novo Chefe do Executivo, Edmund Ho, figura próxima de muitos macaenses, o estado das coisas não confirmou os diagnósticos cassandristas dos que previam a introdução de um regime de direito apenas no papel mas indiferente, na prática, ao destino e às expectativas das comunidades históricas ligadas ao poder português. Isto embora fosse sensibilidade generalizada de que fazer letra morta da legislação e dos compromissos internacionais previamente assumidos, em matéria de liberdades e garantias seria sempre uma decisão pouco avisada.
Mas já se sabe que, em situações de acelerada transformação, uma coisa é a lei, outra coisa é a vida. Prevalecia o medo irracional em vez da lógica das coisas. Sem razão. Pedro Barreiros, neto do sinólogo José Vicente Jorge, que em Abril passado esteve em Macau para uma conferência sobre o seu antepassado, resume este processo. “Dos que eu conheço, alguns foram para Portugal depois de 99, dizendo que seria impossível viver cá. Mas já voltaram todos. Já perceberam que há lugar para eles em Macau, que aqui se sentem bem e que esta continua a ser a sua terra.”
As mudanças são óbvias. Não só do ponto de vista institucional, mas sobretudo físico. A cidade cresceu exponencialmente, a economia explodiu, novas populações imigrantes se instalaram e daquela Macau imaginada resta isso mesmo: memória, nostalgia, pedras e afectos. E um sentimento de relativa crise de identidade entre os macaenses. A tentativa de identificação do que é um macaense é, já de si, turbulenta. A própria produção académica ilustra as dificuldades de fixação de um conceito. Para falar de macaenses, ou de macaístas, – esta nova discussão emergente é sintomática deste debate – socorremo-nos de Ana Maria Amaro e do seu livro, já clássico, Filhos da Terra.
Identidade da terra
Mas quem são, de que traços dispõem estes filhos da terra? A própria autora afirma que é polémica a origem e evolução do grupo dos macaenses, dada a ausência de dados históricos e antropobiológicos seguros. Ainda assim, é possível uma aproximação. “Defendemos a seguinte opinião: as euro-asiáticas teriam sido, em grande maioria, as mães dos macaenses, filhos das primeiras famílias estáveis radicadas em Macau”, um grupo sui generis que, fruto de pressões económicas, se isolou em Macau. “Do ponto de vista antropobiológico, os filhos da terra constituem um grupo de luso-asiáticos com fundo genético muito rico, cujo estudo científico, em amostragem representativa, nunca foi feito”. “Do ponto de vista cultural, o grupo dos filhos da terra continua a ter padrões hibridados e francamente originais que lhes conferem vincada originalidade. São a culinária tradicional, o falar da terra, os trabalhos de costurinha e o bate saia, certos passatempos e os doces nominhos de casa, que Bocage imortalizou no seu soneto a Beba.”
Pina Cabral, antropólogo, propõe outro conceito. Para o autor, a definição da identidade macaense é atravessada por três factores: língua, religião e a miscigenação sanguínea. Traços que não são cumulativos na identificação de cada pessoa para se afirmar macaense.
Mas se não são cumulativos também não se excluem totalmente. Há quem, não sendo produto dessa miscigenação, seja considerado macaense. Outros que, sem dominarem a fluência da língua portuguesa, se identificam com o grupo e outros ainda que, acumulando as duas condições, não professam a religião católica. É uma geografia variável. Tudo somado, a identidade macaense depende, em grande medida, de um grau subjectivo e de escolha pessoal. “Ser macaense é ter estado na Fortaleza do Monte para ouvir o relato de futebol na ocasião do campeonato mundial de 1966”, diz, por exemplo, Armando Sales Ritchie, da Casa de Macau em São Paulo, no sítio da Internet “Memória Macaense”, ou, na mesma página, o escritor e advogado Henrique Senna Fernandes, “ser macaense é o resultado de um todo colectivo que diz respeito a três culturas diferentes”, ou ainda, o conhecido aforismo “Portugal é a minha pátria, Macau a minha mátria”. Esta questão da identidade ou, mais particularmente, da identificação, eterniza-se e emerge cada vez que os macaenses são questionados. Miguel Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses (ADM), ensaia outro caminho. “Aos olhos da sociedade local, o macaense nunca foi visto como um sujeito que vive num gueto e que agora precisa de conquistar um lugar ao sol. Goste-se ou não dele […] possui algo que os demais não têm: a sua capacidade de adaptação cultural e linguística, o que o torna sempre um indivíduo com uma propensão natural para estar à frente ou, pelo menos, numa situação mais confortável”.
Talvez hoje, pelo papel que chamou a si ao longo deste anos, de forma mais pública, Miguel seja uma das vozes mais autorizadas para defender a cultura local macaense. Além de advogado, e assumir a presidência da ADM, é um dos grandes dinamizadores do grupo de teatro em patuá Doci Papiaçam di Macau. E, consequência ou não, um dos rostos que protagoniza a preparação da candidatura do dialecto macaense a património da Humanidade. “A mais valia do patuá está em que ele é um elemento aglutinador e de referência para a comunidade (em Macau e no estrangeiro). Basta ver como os macaenses da diáspora se comunicam com o patuá para se sentir a força congregadora que o crioulo tem”. Esta renovada actividade em volta do patuá recorda os tempos do pós-II Guerra Mundial, e inícios da década de sessenta, a mesma actividade que sempre sucede a um certo crescimento e abertura da cidade.