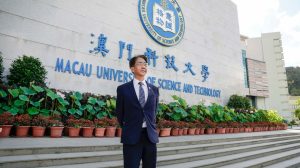Texto Diana do Mar | Fotos Gonçalo Lobo Pinheiro
Anos e anos de história perdem-se no tempo e espaço, esbatendo-se como fumo de um incenso a arder quando as portas se fecham, deixando vagas memórias, quem sabe um dia gravadas a preto e branco. E nos bairros onde outrora imperou, o pequeno comércio tradicional de Macau vai cedendo à pressão de um desenvolvimento avesso a ofícios de outra época, à modernidade e a novas dinâmicas sociais. Entre os que mantêm negócios antigos de família abertos muitos não podem ou simplesmente não querem deixar essa herança às futuras gerações.
Natural da terra, o senhor Lau não deixa os créditos por mãos alheias: não se limita a vender, como os vizinhos, e produz ele próprio os característicos chouriços chineses, que aromatizam as ruas. Logo de manhã, um punhado de clientes acotovela-se numa esquina junto à Rua dos Mercadores para se servir de carnes doces, de peixes salgados ou de biscoitos de amêndoa, espreitando ainda o variado interior de largos boiões sobre um pequeno balcão.
A maioria dos clientes é do Interior da China, mas alguns também vêm da vizinha Hong Kong. Em Macau, tem naturalmente a sua clientela habitual, como seria de esperar de um negócio que abriu portas há 140 anos. O senhor Lau, que recebe os fregueses com um sorriso, tem metade dos anos do espaço que cuida com a mulher, fiel companheira de rotinas. Regra geral, vende o que produz, um sinal do traquejo, apesar da concorrência. “Antigamente, existiam cerca de 40 espaços que vendiam aquilo que produziam. Agora só quatro ou cinco produzem”, diz Lau, com dificuldades em contratar pessoas para este tipo de trabalho. No entanto, conta o septuagenário, “o negócio está melhor do que no passado, graças à política de abertura económica da China, e sobretudo depois de 1985, altura a partir da qual vão chegando mais chineses a Macau”, fazendo com que o volume de negócios desse um pulo de 50 por cento.
Não obstante a melhoria, este não é um estilo de vida que deseje aos seus descendentes: “Não gostaria que os meus filhos continuassem o meu trabalho. É um trabalho em que se sujam as mãos e não se ganha muito dinheiro. Não é decente”. Ao olhar em redor, para os que também por ali têm pequenos espaços dedicados ao comércio – alguns dos quais cultivados como verdadeiras jóias de famílias –, Lau não antevê um bom futuro para o pequeno comércio tradicional: “Sabe quantos chouriços tenho de vender para pagar aos meus funcionários? As grandes superfícies e os casinos pagam mais e não é possível competir”.
Ainda na mítica rua, cujo nome reflecte o que fora outrora, fita-nos, por cima dos seus óculos, o senhor Fok, já pouco acostumado a ver os estrangeiros entrarem por ali adentro. Não é o dono do louceiro Fok Io Cheong, aberto há um século, mas é como se fosse. Veio para Macau aos 16 anos trabalhar com o tio e aquele lugar faz parte da sua rotina desde então.
O estabelecimento parece ter parado no tempo. Em vez da calculadora, sobressai um ábaco, ainda que empoeirado, no lugar de computadores impõem-se blocos de notas sobre a mesa. O telefone, que toca interrompendo a conversa, não é portátil. Em volta, parece que tudo vai se desmoronar a qualquer momento: das estalactites de tachos, ao amontoado de deuses e dragões de porcelana, passando por demais utensílios que fariam talvez o enxoval perfeito para uma noiva dos anos 1960.
Até o negócio, na verdadeira acepção da palavra, é “mais ou menos o mesmo”, conta Fok, com diversas tarefas entre mãos, falando em receitas diárias que oscilam entre as 2000 e as 3000 patacas. O desenvolvimento, como na balança, tem dois pesos: por um lado, há mais turistas mas, por outro, alguns preferem os supermercados, diz o louceiro que, em tempos, chegou a exportar para a China e para o Médio Oriente. Hoje são sobretudo residentes que compõem a sua carteira de clientes.
Talvez porque ao longo da sua vida foi vendo encolher o mundo do pequeno comércio ao qual pertence, Fok também nunca quis que os dois filhos seguissem as suas pegadas, ciente de que “este negócio vai morrer dentro de anos” porque “o estilo tradicional ficou fora de moda e já não se encaixa mais” nos tempos que correm.
Quando a tradição conta
Já os noodles que saem da fábrica de massas de farinha Va Heng parecem não sair de moda, porque é a tradição que lhe dá a fama, patente em guias ou revistas, transmitida também através do boca-a-boca desde os anos 1940, quando abre a primeira loja da marca em Cantão. A Macau abeirou-se na segunda metade da década que se seguiu, com o pesado fardo de preservar uma herança de gerações.
Está longe da vista do turista, mas “quem experimenta, e sabe o que é bom, volta”. É o que diz a senhora Lei, enquanto enche cestas com entrelaçados nós de massa saídos dos seus dedos. “Os grandes hotéis não têm noodles desta qualidade”, atira a “patroa”, certa de que o n.º 51 da Rua da Tercena, com capacidade para produzir até 300 quilogramas por dia, não precisa de publicidade à vasta gama de massas chinesas que oferece. O negócio tem estado “bom”, diz Lei, com os locais como os seus maiores clientes de uma lista que integra restaurantes.
Enrolando minuciosamente as finas argolas de massa que monta, descalça e de avental, salpicado de farinha e de cabelos da cor da cal, Chan figura como o “rosto” da Va Heng. A antiguidade dá-lhe o posto e o ofício as mãos calejadas. “Quando aprendi as técnicas em miúdo, não sabia que ia ser assim toda a vida”, conta, recatado, enquanto entram duas turistas de olhos postos nos yimin. Até gostava (e já está na idade) de descansar, mas a labuta mantém-no “fresco”.
Lá ao fundo, onde o calor aperta mais, um jovem casal destoa. À sua responsabilidade, a fase inicial de um longo processo: de colocar a massa na máquina, de ajeitá-la e moldá-la sobre os equipamentos para ser cortada. Não apreciam propriamente o trabalho, mas “era o que havia”. “São pelo menos dez horas por dia, mas independentemente do que se faça vai ser sempre difícil”, ouve-se por entre o barulho de máquinas e essenciais ventoinhas. A tradição acaba por vingar como “marca” na Va Heng, onde uma dezena de tipos de massa se vendem a par de garrafas de molhos, como o de ostra, apontado por alguns em fóruns na Internet como o melhor e o mais puro da região.
Não muito longe dali, na calmaria da Rua dos Ervanários, um casal faz a sua vida da “tradição”. Dos incensos, aos envelopes vermelhos de laissi, aos calendários e outros berloques, passando por peixes esvoaçantes ou objectos destinados a espantar espíritos, a senhora Chan vende um pouco de tudo, mas o vermelho e dourado da prosperidade imperam. Mas nem tudo na tradição continua a ser o que era: agora compram os pequenos depósitos, de tonalidade encarnada, que se colocam junto às portas com o incenso; antes, há 60 anos, a família do marido fazia-os com as suas próprias mãos.
Inicialmente, o casal fabricava de um lado e vendia do outro, mas actualmente ambos os espaços (um quase em frente ao outro) estão ao serviço do retalho. As receitas, essas, são suficientes para viver, mas não dão para alimentar poupanças, sobretudo quando se tem dois filhos na universidade, os quais “não estão dispostos a trabalhar tantas horas a fio para ganharem tão pouco”.
A época alta dá-se pelo fim do ano. Os costumes mandam distribuir envelopes vermelhos com dinheiro à chegada do Ano Novo Chinês, pelos casamentos, decretando a compra de objectos quando se muda de casa e, claro está, que um novo signo exige um novo calendário, elenca. Em paralelo, também há ocidentais à espreita, cumprindo uma simples curiosidade ou a vontade de integrarem a cultura. Apesar de “as rendas serem relativamente baratas”, rondando as 2000 patacas, Chan teme, porém, que um dia seja forçada a dizer adeus àquela calçada portuguesa porque “há cada vez mais pessoas no negócio” de produtos “que não perdem propriamente validade”.
Vedada ao trânsito, a Rua dos Ervanários é sintomática do que é e do que era o pequeno comércio, merecendo especial atenção por nela se encontrar uma diversidade singular de lojas antigas e típicas, com uma essência como a capturada pela lente do fotógrafo Chan Hin Io nos bairros de Macau. Das lojas de pivetes – resquícios de uma indústria que entrou em declínio na década de 1980 –, às lojas de algibebes, de quinquilharia, às latoarias, passando por estabelecimentos onde se vende jade, mobílias usadas, selos e postais, variadas bugigangas, “artigos velhos” até às lojas do bricabraque são muitas as relíquias. Há também um massagista, para as “quedas e pancadas”, caso necessário.
Na latoaria a meio do caminho, ouve-se apenas as pedras de mahjong a rolar, abafando o som da televisão. Contam que ali já só se avista o que ficou da época em que operava a sério. Há cerca de dez anos que não se produzem novas peças ou se adquirem novos produtos. O negócio parou no tempo. Vende-se o que restou se alguém quiser, diz um senhor encostado ao balcão. A porta continua aberta porque parte do negócio é parte de uma casa. No casal das frutas, mais à frente, é igual. Quem quer serve-se, chama e paga, é o mahjong que impera.
A oferta completa-se mais adiante, aos fins-de-semana, com a mini-feira, cujos produtos espalhados pelo chão sobre uma manta são sempre uma incógnita – de violinos, a livros com ensinamentos de Mao Tzé-Tung, a braceletes de ouro, ferramentas, cachimbos até às chávenas de chá. Quem tiver com fome, pode deliciar-se com acepipes tradicionais junto às banquinhas logo ao virar da esquina.
O tradicional é precisamente o “rótulo” da Cocos Chao Io Kei, no 18 da Rua Tercena, em tempos uma artéria movimentada, conhecida sobretudo dos noivos por vender os cocos da “felicidade”. Enquanto houver quem junte os trapinhos como mandam os costumes da terra, há cocos para vender. Aos pares, naturalmente, com caracteres da dupla felicidade pincelados a vermelho pelas mãos minuciosas de artífice do senhor Chao, desde que a loja abriu em meados da década de 1950.
“Em chinês, a palavra coco é homófona da netos e avós, símbolo de auspício”, pois representa a ideia de uma família grande, bafejando de sorte os que sonham com filhos, explica a senhora Tong, companheira de vida e de ofício de Chao, que pode chegar a amanhar uma centena de cocos por dia. Noivos à parte, os frutos – importados da Tailândia – têm como principal destino as mesas de restaurante. A procura já obrigou mesmo à recusa de grandes encomendas por falta de mão-de-obra, diz Tong, que antes de abrir as portas do pequeno estabelecimento devota duas horas a rachar os cocos e a fazer sumo. O filho, já perto dos 50 anos, também ajuda, cuidando ainda de entregas. “Depois desta geração mais ninguém vai querer seguir ou dedicar-se a este negócio”, prevê Tong, descrente. “Até a lavar pratos em casinos se ganha mais”, lamenta, num regresso brusco ao presente.
A avalanche de turistas que anualmente desagua em Macau não teve repercussões no seu negócio. “A maioria é do Interior da China e não sabe apreciar a água de coco…”, atira, rindo-se porque também só se serve do líquido do fruto do coqueiro quando os cozinhados assim o exigem.
Tradicionais são também os riquexós que tornam bucólicas as imagens dos postais antigos da cidade. Com 70 anos, Wong já pedala há 20. “Não é que realmente goste, mas tenho de fazer a vida e sempre é melhor do que ficar em casa sem nada para fazer”, aponta. As pernas não lhe doem mesmo nesta idade. Se não fizer exercício é que fica pior. Porém, partilha o septuagenário natural de Zhongshan, nem sempre se pedala como se quer. “A competição é muito forte. Não há muitas pessoas que procurem os riquexós. Às vezes, passo um dia sem clientes.” No entanto, “mesmo não fazendo muito dinheiro”, Wong, habituado a levar ao destino turistas de vários pontos do mundo, não acredita que os típicos riquexós venham a conhecer a extinção.
O bom dia que vem da esquina
Na Almeida Ribeiro há outro senhor Wong, instalado há mais de 60 anos no turbulento coração da cidade – de onde avista gravatas esvoaçantes de gentes apressadas ou turistas em alvoroço de sacos em riste – e que dificilmente passa despercebido à turbamulta que cruza a Avenida, ainda que a maioria dos fregueses seja da terra.
Aos 78 anos, não lhe falta vigor na voz, nem coragem para enfrentar o intenso frio ou o insuportável calor aos comandos da pequena banca metalizada que vende maços de tabaco, pacotes de lenços ou pastilhas elásticas, à qual se foi acostumando quando era um adolescente imberbe. “É suficiente para viver [se contar também com a pensão] e gosto de aqui estar porque sempre é uma forma de me manter ocupado”, refere Wong, toda a vida vendedor ambulante. Não dispensa a corrida matinal na Guia ainda antes do sol nascer e às sete da manhã, de pequeno-almoço aviado, roda a chave no cadeado e arregaça as mangas. Ali, onde ganhou óculos e perdeu o cabelo, fica até os ponteiros do relógio baterem as sete da tarde. Só sai para almoçar, altura em que o substitui a mulher.
“Hoje em dia tenho muito menos produtos à venda. Antigamente, havia aqui um cinema e as pessoas compravam gelados, doces ou bebidas antes de entrar, mas fechou”, o que veio a afectar, de forma significativa, o negócio, explica, recordando os tempos áureos do Teatro Apollo, que encerrou há precisamente 20 anos. Depois também apareceram lojas como as de conveniência que roubaram a clientela. De Macau, pai de três filhos, sabe de cor o que querem os seus clientes habituais, como eles sabem que estará ali todos os dias, à excepção dos domingos e feriados.
Já Chow Chi Veng estaciona sazonalmente a banca num estratégico canto no largo do Senado, mas o seu pai também inaugurou o negócio já lá vão seis décadas. Cheio de pedaços de castanha por todo o lado, Chow vai-se defendendo, como pode das que explodem da fornalha – inventada pelo seu pai há mais de 40 anos e parecida com uma betoneira –, enquanto conversa e avia a fila de clientes de guarda-chuvas abertos.
Prefere tardes soalheiras porque a chuva belisca-lhe o negócio, conta o vendedor de castanhas, capaz de soltar palavras em português, embora tenha aprendido a língua de Camões nos longínquos tempos da escola luso-chinesa. Não há paragens para feriados ou domingos. Há que aproveitar o fluxo de potenciais clientes – metade local, metade turista –, bem como prolongar a labuta noite adentro até se esgotarem os fregueses.
Ainda assim, o negócio está pior do que noutros tempos, diz, certo de que não é esse o futuro que deseja para nenhuma das três filhas principalmente porque é um trabalho “muito duro”. Enquanto as folhas não se desprendem das árvores assinalando o advento do Outono e do carrinho das castanhas, Chow vai ganhando a sua vida numa fábrica de joalharia.
No corte e costura de antigas modas
Não muito longe dali e também há mais de meio século resiste a Vai Kei, loja de máquinas de costura e demais acessórios. Lo, 59 anos, assegura há 30 anos, com a esposa, a liderança do espaço, legado do pai. O tempo em que tinha funcionários já lá vai. O negócio está em queda, reflexo de um presente que vai apagando o passado. Na montra passeiam máquinas com 40 anos de história, de marcas internacionais que até já cessaram a produção em massa. Somente a mais antiga, uma “Butterfly”, não está para venda.
“Antes o negócio era melhor: nos velhos tempos, vendia em média, por mês, entre 100 e 200 máquinas, actualmente apenas 15”, revela Lo, pai de dois filhos que não querem ter aquela vida. “Hoje em dia, as pessoas já não precisam de fazer peças de roupa, optando por comprar feita”, constata, lamentando o fim da actividade de comerciantes vizinhos. Enquanto fala entra um cliente jovem, mas o fenómeno tem explicação: “Há jovens que vêm aqui comprar porque estão a estudar ou a aprender design”.
Mais à frente, na Rua dos Ervanários, a máquina de costura é instrumento de trabalho. A senhora Cheong, com quase 60 anos, é uma das costureiras ainda no activo, com experiência de anos conquistada numa fábrica nos tempos em que a indústria manufactureira imperava em força. O pequeno negócio aberto pela sogra vai dando, mas nunca o suficiente para se conseguir sustentar. É mais “ocupação” do que uma fonte de rendimentos, confessa, sem tirar os olhos de uma bainha, Cheong, que vive no andar de cima, e costura paredes meias com uma loja de roupa. Os clientes são principalmente os moradores ali da zona, como as senhoras que estão a seu lado: “Uns dias aparecem muitos, outras vezes, um ou dois, depende”.
Já o senhor Kuoc, que partilha o ofício, também nota que o negócio “está pior do que antes”. E talvez por isso seja categórico: “Tenho um filho e uma filha e não os quero aqui”. Alfaiate desde que aprendeu o corte e costura aos 16 anos, trabalha sozinho na loja, mas tem ao seu serviço funcionários. A tesoura é a fiel amiga de Kuoc, que deixa transparecer o brio de quem já fez fatos por medida para figuras de gabarito, como o ex-presidente da República Portuguesa Jorge Sampaio, ao lado do qual exibe o orgulho de aparecer numa foto pendurada na parede.
À procura dos vendedores pelas ruas
Na Travessa dos Alfaiates também se mexem em linhas e agulhas, mas Ng conserta sapatos. É a única vendedora ambulante no activo daquele arruamento. A banca de hoje foi um dia uma loja e Ng empregada numa fábrica de confecções e doméstica. A prova: um punhado de fotografias desgastadas que exibe mostrando o antigo e amplo espaço, donde o falecido marido retirava os proventos até que no final dos anos 1990 foi forçado a encolher o negócio por causa de planos urbanísticos.
A partir daí, foi o declínio. “Às vezes, ganho menos de 100 patacas por dia. Só os locais que me conhecem vêm aqui”, explica, enquanto cola um par de sapatos com a ajuda de uma tira de madeira. “Mas mesmo pouco é melhor do que nada”, realça Ng, de 60 anos, que conta com o apoio dos filhos, ambos encaminhados em dois grandes sectores: o imobiliário e os casinos.
Ng detém então uma das 1089 licenças de vendilhão que existiam no final de 2012, segundo dados do Instituto para Assuntos Cívicos e Municipais, os quais espelham o compassado desaparecimento dos vendedores ambulantes: desde 1999 perderam-se 560. O académico de Hong Kong Liu Kwok Man, num estudo comparativo sobre a gestão dos vendilhões, publicado na Revista da Administração em 2010 – que “a subsistência das zonas de vendilhões reflecte a situação económica de um território”: em época de prosperidade económica, o número diminui; e em tempos de crise, aumenta.
A maior zona de vendilhões não se concentra, no entanto, no centro da cidade, mas na Rua da Emenda, com a maioria a operar com uma licença de venda de quinquilharias, à semelhança de Ng. As delícias de muitos fazem em especial os vendedores de comidas, que levam e espalham sabores e cheiros. Nos tempos em que “abundavam”, deixaram entranhados nas ruas os aromas dos deleites que ofereciam e satisfaziam a gula por tuta-e-meia, mesmo “sem respeito pelos rigorosos preceitos de higiene, expostos ao ar, às moscas, à poeira e aos miasmas da rua”, como escreve Henrique de Senna Fernandes no seu livro Mong-Há.