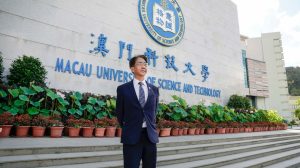Texto Diana do Mar | Fotos Gonçalo Lobo Pinheiro
Cedo se fez à vida. Foi trabalhar quando outros foram estudar e aos 17 anos tornara-se numa mulher independente. A universidade só chegou depois do 25 de Abril de 1974. Antes, porém, envolvida no movimento sindical e democrático, passou por “experiências inacreditáveis” durante a ditadura de Salazar em Portugal. E, por duas vezes, esteve presa. Em 1982 aporta em Macau, onde viria a abraçar outras causas, escrevendo novos capítulos de uma história que não é só sua.
Natural de Lisboa, Maria Amélia António nasceu em 1945 no seio de uma família típica da época: o pai era motorista e a mãe dona de casa. Aos sete anos, acabada de entrar para a escola, perdeu a figura materna, ficando sob os cuidados de tias. Porém, a morte da tia Júlia – a “patriarca” como lhe chama – quando acabou o sétimo ano do Liceu implicou nova reviravolta: “Foi tudo reformulado nessa família e nessa casa. Tive de me fazer à vida e ir viver sozinha aos 17 anos. Foi muito duro”, conta.
Sem condições financeiras para prosseguir os estudos, a universidade foi colocada de parte. “Fiz um percurso um pouco diferente”, constata Maria Amélia António. O primeiro emprego foi num laboratório de análises clínicas. Seguiram-se passagens pelos Correios, por uma cooperativa livreira ou mesmo pelo balcão de uma loja de bordados, não necessariamente por esta ordem, com a lista a incluir trabalhos temporários. “Fiz de tudo e aprendi muito.”
E foi enquanto trabalhadora-estudante que frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a partir de 1974 com a abertura dos cursos nocturnos. Na altura, estava ao serviço do Sindicato dos Bancários Sul e Ilhas.
Dado o percurso que trilhou, muito pelo que ditaram as circunstâncias, Amélia António acompanhou os movimentos estudantis à distância: “Nos meus tempos de estudante, éramos um pouco observadores. Só quando estava no sétimo ano é que se começou a falar de um movimento ao nível dos liceus, mas era uma coisa que mal se ‘cheirava’ ainda. Depois é que as coisas ganham mais força e eu acompanho-as a trabalhar, mas não participando propriamente nelas”.
“Venho é a estar envolvida depois ao nível do movimento sindical e do Movimento Democrático”, explica, com dificuldade em destacar momentos marcantes. Houve “muitas coisas”, além do próprio 25 de Abril, naturalmente, apontou, levantando o pano relativamente a dois episódios sobre os quais evita falar, com um desfecho comum: a prisão. Amélia António é presa pela primeira vez em 1970/71, durante cerca de uma semana, quando participava numa campanha de recenseamento. Aproximadamente um ano depois, volta a ser detida, desta feita, num caso “mais complicado” ligado à contestação da guerra colonial, acabando por ser libertada ao fim de três meses.
Amélia António trabalhava na Devir, uma cooperativa livreira constituída, em 1969, com o resto dos fundos da campanha das eleições às quais o Movimento Democrático Português (MDP/CDE) concorreu, à semelhança de outras, dinamizadas na altura em vários pontos de Portugal. Contudo, “quando o Governo começou a perceber o ‘perigo’ [risos] que aquela dinamização cultural representava começou a atacá-las e foram sendo fechadas”. “Em Lisboa, havia a Livrelco – que teve um papel muito importante e depois foi constituída a Devir. Foi uma experiência, com aquelas visitas praticamente semanais da PIDE… Sempre que saíam livros eles estavam a entrar porta dentro. Entravam e viam tudo, faziam uma radiografia aos títulos e, se algo chamava a sua atenção, identificavam-se e faziam um auto de apreensão. Passamos cenas engraçadíssimas e heróicas.”
Às vezes, eram eles a entrarem por uma porta e amigos a saírem por outra, com malas de viagens cheias de papéis, em busca de um autocarro sem degrau para que pudessem dar, literalmente, o ‘salto’ à última hora, já no arranque, sem o risco de serem seguidos. Durante esse período, “estava por minha conta”, pelo que os riscos eram “somente pessoais”, justifica.
Na memória que guarda, no ano que antecedeu a Revolução dos Cravos, muita gente foi presa. “Havia muitas famílias com problemas de subsistência” e, por conseguinte, urgia agir. “Um dia perdemos a cabeça e fizemos flores de papel e fomos vendê-las para a porta do cinema, em plena Avenida da Liberdade, pedindo ajuda para as famílias de presos políticos. As pessoas ficavam de boca aberta, gagas… O desespero e a dificuldade eram tão grandes que acabávamos a fazer loucuras. Era aflitivo: Cada vez que havia uma vaga de prisões, as pessoas ficavam completamente abandonadas, pois já viviam muito mal. Arranjar maneira de as ajudar era um quebra-cabeças.”
Na universidade, em 1975, conhece Henrique Saldanha. “Ele era monitor de Direito Constitucional [risos], dava as aulas práticas. Foi um tempo fascinante que alterou de novo o rumo da minha vida”, salienta a advogada.
Advocacia em Macau e o medo de existir
Estávamos em 1982 quando Amélia António chegou a Macau. Trouxe-a então precisamente a vinda do marido, desafiado com um convite para trabalhar no então Instituto Emissor (hoje Autoridade Monetária). Nos primeiros tempos a Oriente, prestou apoio logístico a investidores num escritório mas, rapidamente, embarcou numa aventura pioneira: a de abrir o primeiro escritório colectivo de Macau.
“É um disparate! Não vai funcionar”, alertavam as vozes da altura, num discurso que, aos olhos de hoje, “parece ridículo”. Porém, “funcionou”, constatou. Amélia António, Alexandre Correia da Silva, Carmona e Silva e, mais tarde, Henrique Saldanha formavam aquele que era chamado de “Bando dos Quatro”, uma expressão muito em voga no início dos anos 1980 por causa do julgamento do grupo ao qual pertencia a mulher de Mao Zedong, que viria a ser condenada. “Eu era a Jiang Qing [risos]… Era uma piada entre os advogados. A malta é que brincava com isso. Chegou a ter essa alcunha, sim”. “Abrir sozinhos não era fácil e nós conhecíamo-nos, pelo que surgiu então a ideia de nos juntarmos”, explica Amélia António, portadora da célula número 17, numa época em que havia cerca de duas dezenas de advogados em Macau.
Mais tarde, Amélia António viria a desempenhar também, com um grupo de advogados dessa geração, um importante papel ao nível da própria classe. “A determinada altura, começou-se a falar da transição, do que ia acontecer e levantou-se a questão de estender a Macau a Ordem dos Advogados ou de criar um organismo próprio”, pelo que, a fim de evitar que a discussão ‘emperrasse’ nessa dualidade, no final dos anos 1980 foi constituído um grupo de trabalho, do qual fazia parte, incumbido de estudar os prós e os contras.
“Foi tudo escalpelizado, fizeram-se contactos com o Governo e a Ordem e conseguiu-se provar por A+B que a solução da extensão da Ordem não funcionava, não servia os interesses futuros da profissão e por unanimidade decidiu-se constituir a associação” de direito privado, com a escritura no cartório das Ilhas e a escolha para a liderança a recair sobre Carlos d’Assumpção, o decano da classe, lembra.
Outra grande mudança seguir-se-ia com a alteração do Estatuto Orgânico de Macau pela Assembleia da República, a qual vem permitir a constituição de associações de direito público, em 1991. Não faltava muito para a transferência de administração e “já percebíamos que ia ser muito complicado, por isso eu e o Francisco [Gonçalves Pereira] – que estávamos na direcção – fomos ter imediatamente com o então secretário-adjunto da Justiça, Sebastião Póvoas, frisando: ‘Temos de o fazer já. Para ontem, antes que seja tarde’”. Obtida a “máxima colaboração”, o estatuto do advogado “foi feito em três tempos, com algumas deficiências, mas não estávamos preocupados. Corrigir era a qualquer tempo, fazer não!”
“Foi criado o prazo para se convocar uma assembleia-geral para aprovar a transformação da associação, elaborar regulamentos, o código deontológico, enfim, a legislação necessária e assim foi. Ficou constituída de direito, com os seus órgãos eleitos e mais nenhuma profissão liberal – as quais normalmente são reguladas – conseguiu fazer o processo de auto-regulação porque acordaram todos muito tarde”, realçou Amélia António, que ocupou o cargo de secretário-geral.
Ainda assim, “houve alguns momentos de dúvida se, naquela apreciação que ia ser feita das leis que se iam manter em vigor, poderia haver problemas com o estatuto do advogado e com esta auto-regulação, mas correu tudo bem!” Apesar de alguma “fricção”, “a maioria entendeu que não devia mexer no assunto e deixá-lo para a Região Administrativa Especial”, conta Amélia António, sem esconder o orgulho de ter participado nas causas da classe.
Por isso é que, às vezes, partilha, “faz-me muita confusão quando oiço gente nova na profissão a dizer certas coisas e a tratar a advocacia como se ela fosse meramente comercial porque esses colegas não percebem o quanto foi preciso para conseguir o que têm hoje nem a importância disso, nem a diferença entre ter e não ter garantias para o exercício da profissão e os deveres que lhe são inerentes”. “É uma história relevante do nosso passado, algo que fizemos colectivamente de extrema importância para Macau”, sublinhou.
Na década de 1990, Amélia António foi eleita para representar a classe no Conselho Judiciário de Macau, o qual viria a cair com a transferência em 1999 e a nova organização judiciária e os novos órgãos. Já na era RAEM, cumpre um mandato (2001-2003) como presidente do Conselho Superior de Advocacia. Apesar de dizer que mal consegue pôr a sua própria história de pé, pela dificuldade em precisar as datas dos acontecimentos, desta não tem dúvidas, por uma simples razão: “Foi o ano em que se constituiu a Casa de Portugal”, processo do qual esteve afastada precisamente por estar “ocupadíssima” com esta função.
Contudo, Amélia António entra logo no biénio seguinte (2003-2005) para a Mesa da Assembleia-Geral. À presidência chegou em 2005 e manter-se-á aos comandos, pelo menos mais dois anos, após ter sido reconduzida, no início deste ano, para um quinto mandato. Embora seja o rosto da Casa de Portugal em Macau, Amélia António, mesmo quando se trata de falar de si, expressa-se sempre no plural. “Nós pensamos, fizemos, criamos”, isto quando outros afirmam que uma iniciativa ou ideia foi exclusivamente da sua autoria, sendo difícil ‘desviar’ o discurso de Amélia António para si própria.
Nos primeiros tempos na Casa de Portugal, a missão era clara: “Não deixar que as cadeiras ficassem vagas, sob pena de alguém se sentar nelas”. Esse era o “grande desafio” da época, “pelo que o trabalho foi muito vocacionado para esta reafirmação, num período em que chegaram a Macau outras comunidades com muita força, como a americana e a australiana”. “Isso criou a consciência de que estava em causa a nossa presença e a própria identidade de Macau”, sublinhou.
Depois desse desafio, outros vieram. A Casa de Portugal foi absorvendo a vida de Amélia António, que hoje não vive sem ela. O seu dia-a-dia, diz, “é muito complicado”. Há assuntos para tratar de manhã à noite: pessoas para ver, contactar, sítios para ir, seja a nível do escritório de advogados, da Casa de Portugal ou no plano da vida familiar. “Há muito tempo que deixei de ter tempos livres”, diz, soltando uma gargalhada. “Gosto de viajar, gosto de praia, de estar calmamente a ler, mas hoje é praticamente impossível” e quando o relógio permite uma folga apressa-se a resolver o que ficou para trás. Ao contrário da maioria das pessoas, Amélia António lê os jornais ao final do dia, num serão que também inclui, às vezes, um pouco de televisão, para “quebrar”. Nos dias que correm, lamenta também ser raro conseguir ir a um espectáculo, com a “sobreposição” de convites para as mais diversas inaugurações ou actividades. “Não faço o que quero, faço o que me deixam e a vários níveis”, atira.
À mesa de uma família luso-chinesa
Face à “roda-viva”, Amélia António diz ser “grande” o esforço” que tem de fazer para conseguir jantar em família o maior número de dias da semana, sendo que os horários (os seus, os do marido e os escolares) também ditam em que dias almoçam com os filhos. Não se pode dizer que tem um prato preferido, porém, há um ‘menu’ que lhe aviva memórias de infância. Quando era miúda desejava-o sempre pelo dia do aniversário: salsichas frescas com couve lombarda, sopa de conchinhas e pastel de nata. “Ficou de criança. É só uma recordação a que achamos piada. O meu pai perguntava-me o que queria e eu dizia sempre aquilo porque era algo que não comia durante o resto do ano… Era uma grande festa…”
Noel e Clara, ambos com 16 anos, entraram na vida de Amélia António (ou ela entrou na deles) em 1997. “Nós queríamos adoptar, inscrevemo-nos em Macau, mas sabendo que era difícil – havia menos crianças e muitos interessados –, fizemos uma pesquisa à volta, preparámos e enviámos, em paralelo, o processo para a China, a ver o que acontecia. Ficamos à espera e quando soubemos que o pedido estava aprovado e podia avançar, também recebemos o ‘sim’ relativamente à autorização para adoptarmos o Noel em Macau. “Foi uma coisa absolutamente… Pensámos: se este está autorizado e o outro pode avançar, então avançam os dois. Não vamos escolher”, descreve. “Foi um duplo Ah!” e, como se resolveram os dois, vieram os dois.
Noel foi o primeiro a chegar a casa com pouco mais de um mês. No caso da Clara, as dificuldades burocráticas desencadearam uma série de peripécias. “Quando a fomos buscar, ao chegarmos à fronteira não pudemos sair, porque ela não tinha um bilhete para Portugal nem uma prova de que estava autorizada a entrar em Portugal. O meu marido regressou a Macau para estar com o Noel e eu fiquei na China e tive de ir a Pequim para resolver os problemas junto da nossa embaixada. Fiquei vários dias com ela sozinha à espera de resolver o problema e ia sendo um sarilho porque a embaixada nunca tinha tido que resolver uma situação daquelas e andava em consultas com Portugal”, relata Amélia António que resolveu, face ao impasse, pegar no telefone e fazer os seus próprios contactos. Clara tinha sete meses. Durante o dia, passeavam, a gastar o tempo, até que fossem horas de ligar para Portugal e “chatear meio mundo”. Tudo acabaria por ficar resolvido, a lição fora aprendida e serviria para ajudar futuras mães em idêntico processo.
No final do ano passado, Amélia António foi distinguida pelo Governo da Região Administrativa Especial com a Medalha de Serviços Comunitários, dois anos depois de a Casa de Portugal ter sido agraciada com a de Mérito Cultural.