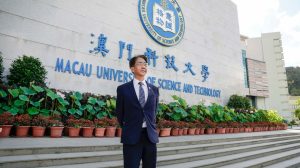Texto Marco Carvalho
Viviam-se os últimos dias de Outubro de 1993 e no território há muito que a contagem decrescente para o regresso de Macau à soberania chinesa tinha arrancado. A pouco mais de seis anos da transferência de administração subsistiam incógnitas que encontraram lugar de destaque no enredo de “Olâ Pisidénte”, a récita com que há um quarto de século arrancou o percurso dos “Dóci Papiaçám”.
“O presidente português vinha a Macau e a vinda dele é um bom chamariz para o queixume”, lembra Miguel de Senna Fernandes, sobre a primeira das muitas narrativas que escreveu em maquísta. “Do que nos vamos queixar? Qual era à época a grande questão? Era a questão da nacionalidade que está ligada a tudo. Entronca com a questão da afiliação com Portugal, com o problema da identidade, com uma série de coisas. Vários conceitos nunca tinham sido pensados. A noção de identidade, por exemplo, nunca se tinha colocado como conceito propriamente dito. Existia de forma latente”, recorda o encenador.
Nos Estados Unidos, um grupo de macaenses tinha sido obrigado, uns meses antes, a fazer prova de nacionalidade para renovar o passaporte português e o eco das dificuldades que sentiram chegou a Macau, semeando mal-estar entre a comunidade. A polémica foi o rastilho que incendiou os ânimos na noite em que o histórico Teatro D. Pedro V voltou a abrir as portas, depois de um prolongado e detalhado período de renovação. Em pouco mais de vinte intensos minutos, a Macau do incerto período pré-transição exorcizou medos, entregou os recados que quis a Mário Soares e fê-lo tendo como instrumento privilegiado a comédia e como banda sonora um estridente fluxo de gargalhadas: “A casa veio abaixo”, recorda Senna Fernandes. “Foi um momento muito giro e as pessoas estavam à espera que assim fosse. A récita, que constituiu para muitos uma estreita absoluta nas lides do palco, foi um bom aperitivo para a festa que era do Fernando Tordo.”
A mensagem sobreviveu à enchente de boa disposição e o Chefe de Estado, que horas antes tinha sido distinguido com um doutoramento “honoris causa” pela Universidade de Macau, regressou a Lisboa com plena consciência dos problemas e das angústias que então acometiam os naturais do território tendo percebido “o essencial” da mensagem, como afirmou à imprensa local na altura.
A doçura antes do Dóci
“Olá Pisidénte” materializou-se perante pouco mais de duas centenas de espectadores, escolhidos a dedo pelo Governo para a re-inauguração do Teatro D. Pedro V, mas o sucesso da récita rapidamente extravasou as paredes daquela sala de espectáculos. Não se falava de outra coisa pela cidade.
Debilitada e entregue ao esquecimento pela indiferença a que foi votada pelas gerações mais novas, a “língua nhonha” – o patuá – recebeu especial destaque, algo que se prefigurava improvável meio ano antes, nas semanas que se seguiram ao desaparecimento daquele que foi, durante décadas a fio, o seu principal defensor e divulgador.
A morte, a 24 de Março de 1993, de José Inocêncio dos Santos Ferreira (Adé) confrontou as gerações mais velhas de macaenses com o espectro de um temor que há muito se fazia anunciar: a obsolescência total do patuá. O idioma, aparentado ao kristang e a outros crioulos de matriz ibérica que se desenvolveram no Sudeste Asiático, foi durante a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX um dos principais factores de coesão da comunidade.
As vicissitudes de que o território foi palco durante e imediatamente após a Guerra do Pacífico contribuíram para a desagregação das relações de vizinhança que durante séculos conformaram o quotidiano da cidade. Bairros como o de São Lourenço ou recantos como o Pátio do Lilau deixaram de ser espaços eminentemente macaenses e o maquísta foi uma das primeiras vítimas da metamorfose da paisagem urbana, ao deixar de ser escutado nas ruas. Confinado ao seio de uma mão cheia de famílias, o dialecto passou a irromper no espaço público de forma cada vez mais esporádica e irregular, quase sempre pela mão de Adé, o homem que muitos identificam como o último falante fluente do “maquísta cerrado”, a variante mais castiça do dialecto.
Poeta, dramaturgo, tradutor e liricista, Adé foi também o primeiro a arriscar algo até então nunca tentado: dotar o patuá de uma ortografia padrão e de um corpo gramatical bem definido.
“Uns dias depois do Adé ter falecido, equacionámos a possibilidade de revitalizar as récitas em patuá, precisamente com uma pequena homenagem. A ideia foi muito bem acolhida e na altura foi o pai do Miguel, o Dr. Henrique de Senna Fernandes, quem ficou responsável por escrever alguma coisa”, recorda Sónia Palmer.
Filha de Aida de Jesus, proprietária do restaurante “O Riquexó”, Palmer cresceu a ouvir a mãe e a avó conversar no doce linguajar da terra. “É algo que faz parte das raízes dos macaenses. Além da gastronomia, o patuá é outra das características fortes da nossa identidade”, assinala.
Miguel de Senna Fernandes é o primeiro a reconhecer que o patuá não tem salvação possível, que não mais se manifestará com a vitalidade entretanto perdida. O advogado e encenador está ciente de que as alterações na cidade ao longo do último século tornam o desígnio da revivificação do maquísta inviável, mas nem por isso deixa de atribuir ao dialecto uma importância central na construção de uma memória partilhada e de um capital afectivo que, em última instância, ajudam a cimentar a coesão da comunidade: “Se perguntar a um macaense se o patuá deve ser atirado para o lixo, ele diz-lhe logo que não. Pode não dizer uma palavra, mas dir-lhe-á que é uma coisa do passado”, assegura Senna Fernandes. “Ele não vai utilizar aquilo no seu dia-a-dia, mas não se atira fora o patuá, da mesma forma que não se atira fora algo com valor afectivo. Uma das coisas pelas quais o Dóci Papiaçám luta é pela constituição desta memória colectiva”, assume o encenador.
A percepção de que as novas gerações estariam inadvertidamente a “atirar o maquísta para o lixo” graças a um crescente desinteresse, levou um grupo de macaenses a arriscar, um ano antes da morte de Adé, uma primeira tentativa de reanimar o teatro em patuá. Impulsionado por Julie de Senna Fernandes e pela jornalista Cecília Jorge, o grupo – do qual Sónia Palmer fazia parte – procurou convencer José dos Santos Ferreira a sentar-se à escrivaninha e a voltar a conceber bem humoradas récitas.
“Este esforço teve na sua génese um grupo de amigos que, coincidentemente, eram também amigos do patuá. Abordámos o Adé e no princípio ele até se mostrou receptivo, mas depois adoeceu e já não conseguiu escrever”, recorda Palmer.
Longe de imaginar que a sorte o escolheria para dar continuidade ao legado de José dos Santos Ferreira, Miguel de Senna Fernandes assistiu como mero espectador ao tributo a Adé. “Eu assisti a esta homenagem ao Adé na Casa Garden. Fiquei, naturalmente, entusiasmadíssimo, mas nunca me ocorreu de modo algum que iria fazer parte de uma coisa assim”, confessa. “A reacção do público foi avassaladora, ao ponto do núcleo duro do grupo – a Julie de Senna Fernandes, a Fernandinha Robarts e a Mariazinha Correia Marques – se convencer que o projecto de reabilitar as récitas em patuá tinha pernas para andar. O meu pai também estava metido nisto”, recorda Miguel.
Sobre Henrique de Senna Fernandes recaiu a responsabilidade da criação de material que o grupo pudesse levar ao palco. Mais confortável na prosa do que no registo da escrita para teatro, o escritor e cronista deparou-se com dificuldades imprevistas: “O meu pai não se sentia muito confortável na construção de diálogos. Eu tentava dar algumas ideias”, recorda Miguel de Senna Fernandes. “Um dia o meu pai perdeu a paciência e disse-me: ‘Se é assim tão fácil, porque é que não vens comigo a uma reunião e expões as tuas ideias?”. Miguel aceitou e o resto é história.
De aperitivo a prato principal
Os meses que antecederam a estreia de “Olâ Pisidénte” foram, para Miguel de Senna Fernandes e para a generalidade dos membros do grupo, férteis em noites intensas e mal dormidas e de grande azáfama.
“Estávamos em Setembro e a Fundação Oriente estava encarregue de conceber o caderno com o programa das celebrações e foi aí que surgiu uma questão que até então ninguém tinha equacionado: ‘Que nome têm vocês?’. É verdade! Que nome temos nós?”, recorda Miguel de Senna Fernandes.
No Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia, espaço onde a récita primogénita do Dóci ganhou forma o foco deixou de ser o aperfeiçoamento do papel de cada um e passou a ser o de escolher um nome que não traísse a identidade do projecto: “Houve quem sugerisse Grupo de Teatro Amador de Macau, quem tenha contraposto com Grupo Lótus e quem tenha sugerido Tuna Lis primeiro e depois Tuna Esperança. Tudo muito bairrista”, recorda Senna Fernandes.
“Nisto, a Fernanda Robarts disse: ‘Dóci Papiaçám di Macau’. Foi o Adé a primeira pessoa a designar o crioulo por ‘Dóci Papiaçám di Macau’ É um nome que faz todo sentido porque se alcançam dois propósitos com uma única expressão: perpetua a memória do Adé e transmite como poucos a importância que o dialecto tem para a comunidade macaense. E foi assim que nos tornamos conhecidos”,
explica o advogado.
A 30 de Outubro os oficialmente Dóci Papiaçám di Macau subiam ao palco. “Muitos de nós, era a primeira vez que estávamos em palco, que se apresentavam perante o Governador e ainda por cima o Presidente da República portuguesa também estava na assistência. Foi uma noite de estreias”, complementa.
“Olá Pisidénte” voltou a subir ao palco do Teatro D. Pedro V menos de dois meses depois de ter arrancado elogios a Mário Soares e de ter deixado em efervescência uma assistência criteriosamente escolhida pelo gabinete de Vasco Rocha Vieira. Durante três noites, na altura de Natal, a récita foi reposta.
“Eu acho que as pessoas gostaram do que viram. Tanto assim é que quando fizemos uma segunda récita, o teatro já era pequeno demais para tanta gente e ao cabo de três ou quatro anos tivemos de mudar para o Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau. Agora enchemos o Grande Auditório duas noites consecutivas e às vezes a sala é pequena para tanta gente”, sublinha Sónia Palmer.
Com o apoio do Instituto Cultural, o grupo internacionalizou-se menos de dois anos depois de ter subido ao palco do D. Pedro V pela primeira vez: “Em 1994 protagonizámos o nosso primeiro grande espectáculo, uma peça com vários sketches. Em 1995 tivemos a nossa primeira digressão. Fomos até à Califórnia, São Paulo e, no âmbito dessa deslocação, só não fomos a Lisboa por uma questão de tempo. Escrevi muito nessa altura”, relembra Miguel de Senna Fernandes. “No ano seguinte, em 1996, fomos ao Porto. Em 1997 fizemos a reposição da peça com que nos apresentamos no Porto, naquela que foi a primeira vez em que fomos convidados para participar no Festival de Artes de Macau. Na altura ainda não estávamos convencidos de que o projecto poderia sobreviver”, confessa.
“Quando é que as perspectivas começaram a mudar? Em 2000 convidei actores chineses para representarem connosco pela primeira vez e é a partir dessa altura que começa a segunda vida do grupo, que ganhamos uma certa estabilidade”, reconhece Senna Fernandes. “Na altura o que nos ocorreu foi que estávamos a viver uma nova realidade em Macau e que era fundamental entender como é que éramos recebidos. Esta posição tem muito a ver com a forma como o Executivo de Macau tratou a comunidade portuguesa e a comunidade macaense. O Governo sempre fez questão de sublinhar que a comunidade portuguesa era importante, de que os macaenses são ainda mais importantes, sendo portugueses locais, e, como tal, merecem todo o apoio e toda a protecção”, complementa.
Em 2006, o grupo passou a adoptar uma postura mais mordaz: “Começámos a ser muito críticos. A forma como abordámos as coisas tornou-se mais agressiva e contundente em relação às outras récitas. Contundentes à boa maneira dos Dóci: é tudo muito suave e de repente vem uma bofetada”, ilustra o encenador. “Mesmo assim, o Instituto Cultural faz questão de nos manter de ano para ano no cartaz do Festival de Artes de Macau. Isto diz-nos alguma coisa, não é?”.
Doces cantigas e Missas do Galo
O teatro em patuá e a música sempre andaram de mãos dadas, ao ponto de o casamento entre as duas manifestações artísticas ter estado na origem de uma das mais curiosas facetas do percurso do Dóci Papiaçám.
Entre 1998 e o final da primeira metade dos anos 2000, o coro homónimo encheu por várias vezes a Igreja de São Domingos, abrilhantou os convívios da comunidade, participou nos Encontros da diáspora macaense e foi responsável pela primeira Missa do Galo celebrada em patuá de que há memória em Macau.
Além de ter deixado uma extensa obra escrita, Adé gravou álbuns e registos sonoros em que ora declamava, ora cantava. O Dóci Papiaçám fez questão de lhe copiar o exemplo logo desde o início: “Até 1999, os espectáculos do Dóci terminavam sempre com música. Tínhamos uma série de músicos, que acabaram por ensinar muitos dos actores que participavam nas récitas a colocar a voz e a determinada altura já havia tanta gente a cantar em maquísta que não nos pareceu má ideia constituir uma espécie de coral”, ilustra Miguel de Senna Fernandes.
O impacto da iniciativa foi tão positivo que em 2000, o coro elevou a ousadia a um novo patamar e pediu à Diocese de Macau autorização para organizar, no mesmo espaço uma celebração inédita, uma Missa do Galo cantada inteiramente em patuá: “O padre Francisco Fernandes, já falecido, ofereceu-se para oficiar a Eucaristia. Quando chegámos à noite de Consoada, esperávamos o Padre Fernandes e não é que o bispo, D. Domingos Lam, aparece? Fiquei estupefacto. Foi a primeira Missa do Galo feita em patuá e há muita gente que continua a falar nela”,
assume Senna Fernandes.
“A certa altura eu já estava a fazer os textos para as récitas e dei por mim a escrever letras em patuá e a fazer arranjos para que determinados temas pudessem ser cantados na Missa do Galo. Eu até fui liricista [risos]”, exclama o encenador.
O coro Dóci Papiaçám não vingou mas a música sempre encontrou caminho para o palco, quer como complemento, quer como contraponto, à faceta humorística com que o grupo se notabilizou: “Nós ainda fizemos um sexteto. Chamava-se “Dóci Six”. Depois ficou só “Dóci Five”. Era eu, o Germano Guilherme, a Lisa Acconci, a Isa Manhão, a Valentina Marques e o Armando Teixeira. O Armando Teixeira era o sexto, mas ele depois saiu e passamos a ser cinco. Cantámos a capella, fizemos arranjos nossos. Nós éramos muito atrevidos. Muito arrojados mesmo. Espero um dia voltar a fazer o mesmo”, assume
Miguel de Senna Fernandes.
Para já, apenas uma certeza. A música deve ser uma componente importante do espectáculo que o Dóci Papiaçam se propõe levar ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau em Maio. A récita deverá ter o formato de um mini-musical e abordar com a mordacidade do costume um tema que tem sido alvo de um amplo debate na Assembleia Legislativa: o processo de construção do Complexo Hospitalar das Ilhas.