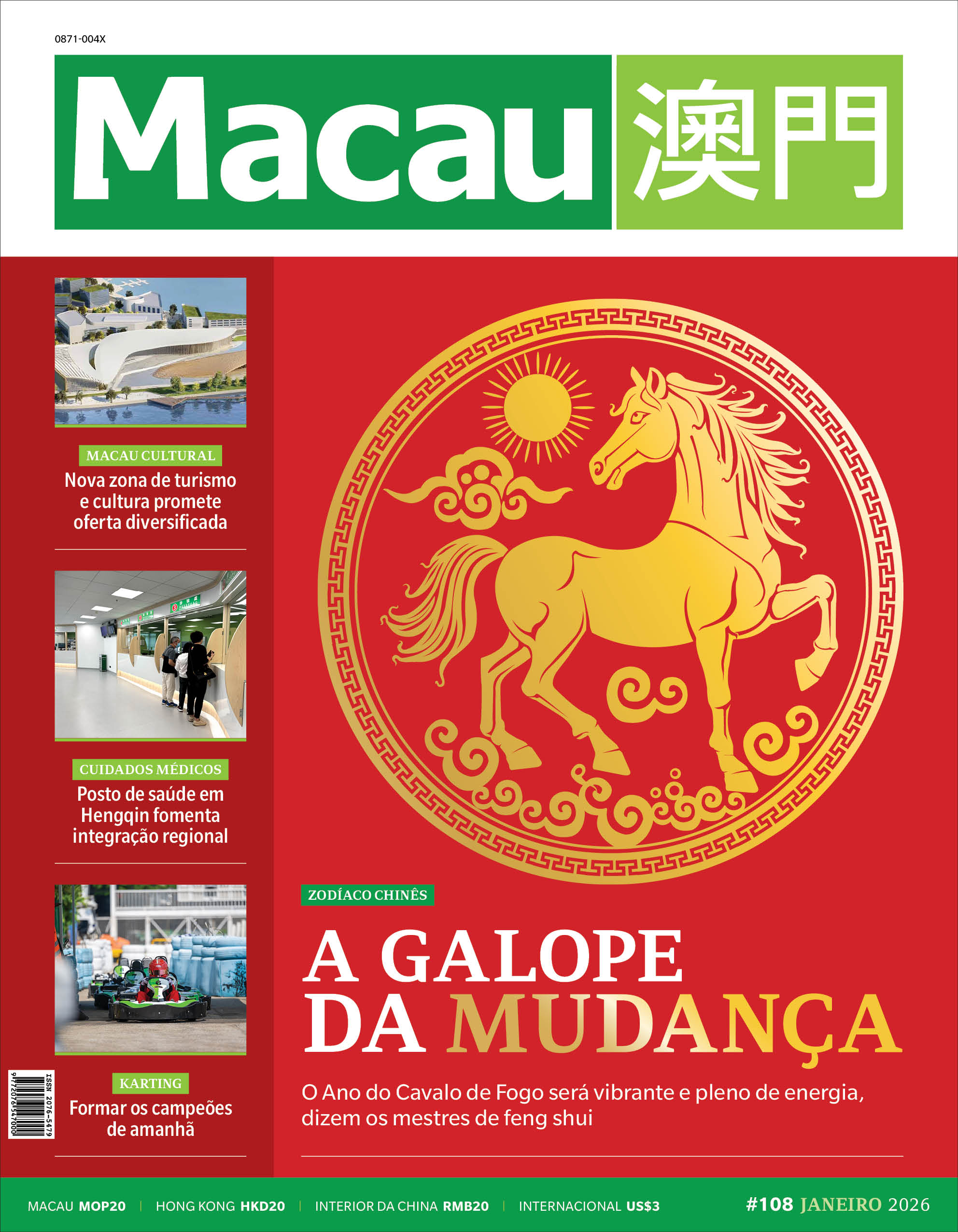Existe ainda um conhecimento relativamente limitado sobre a riqueza da literatura chinesa, mas há todo um trabalho que continua a ser feito para promover a sinologia junto dos países de língua portuguesa. Quem o diz é o professor assistente do Departamento de Português da Faculdade de Letras da Universidade de Macau, Giorgio Sinedino, recentemente galardoado no 18.º Special Book Awards of China, uma das maiores distinções oferecidas a tradutores, autores e editores estrangeiros
Texto Nelson Moura
O que significa para si o Special Book Awards of China e o que representa para o trabalho que tem desenvolvido?
É o prémio mais importante no campo das publicações oferecido pelo Governo chinês, um prémio nacional atribuído desde 2005, com duzentos e poucos especialistas oriundos de mais de 60 países agraciados, o que significa que tem um estatuto elevado para o Governo chinês e uma representatividade grande em termos de alcance internacional.
É uma grande honra poder receber um prémio que não é muito frequentemente concedido a nacionais de países de língua portuguesa. Isso é uma grande alegria para mim: poder partilhar essa realização. É um reconhecimento do trabalho que tem sido feito em língua portuguesa, e, mais uma vez, é um galardão que acentua a qualidade do trabalho que vem sendo realizado por nós.
Como tem sido o seu percurso na área da tradução?
Cheguei a Pequim em 2005, onde tive a sorte de conhecer o meu mentor, um professor na Universidade de Pequim. Sempre tive interesse pela língua chinesa, comecei a estudar chinês com ele, e aqui estou já há 20 anos.
Trabalhei primeiro como funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil, vim trabalhar na Embaixada do Brasil em Pequim, pude aperfeiçoar o meu chinês, e tive a oportunidade de fazer pós-graduação, mestrado e doutoramento numa universidade chinesa de topo. Fui desenvolvendo os meus interesses pela língua também nessa área académica.
A oportunidade para iniciar o trabalho de tradução surgiu num momento em que estava a realizar o mestrado na Universidade de Pequim. As coisas foram acontecendo, todos os meus interesses académicos foram-se desenvolvendo, as obras saíram e, nestes 20 anos – sobretudo a partir da minha vinda para Macau, em 2013 –, com muitos trabalhos de longa extensão.
Temos agora esses três livros publicados, um quarto que está na calha e mais dois projectos em mãos. No que toca ao meu trabalho de intercâmbio entre os países de língua portuguesa e a China, [ele] tem tido lugar na área da tradução e da divulgação da literatura clássica chinesa e literatura moderna da China nesses países, por meio dos meus parceiros, editoras já bem estabelecidas no Brasil, e agora também [através das] Edições em Línguas Estrangeiras, a editora mais importante da China voltada para o exterior.

Quais os principais desafios na tradução de obras clássicas chinesas para português?
No trabalho de tradução, a maior parte das pessoas diria que se trata de um problema linguístico, de como encontrar equivalentes da língua arcaica chinesa ou da língua moderna chinesa no nosso património linguístico.
Na minha opinião, a maior dificuldade é conseguir calibrar esses trabalhos para que respondam às expectativas do público de língua portuguesa. É a forma de pegar no que estas obras têm de melhor, no original, e verter os conteúdos de uma maneira que não apenas a língua, mas também o que eles têm de valor intelectual, artístico, estético, etc. possa ser representado em português.
É fácil colocar em palavras, mas as dificuldades acumulam-se, tornam-se mais claras a partir do momento em que temos de trabalhar com textos em particular. Cada texto tem a sua personalidade, a sua situação histórica, o seu significado na cultura chinesa, que é tão irreproduzível em português como as palavras em si.
O desafio principal no trabalho de tradução do chinês para português é esse: conseguirmos, além de resolver os desafios linguísticos, representar em português essas obras, reproduzir o valor que elas têm no seu contexto de origem.
Afirmou no passado que a sua edição comentada de “Os Analectos” de Confúcio representaram um marco na tradução para português. O que tornou esse trabalho único?
É importante salientar dois pontos. Primeiro, a reacção do público. Esses trabalhos têm uma vantagem significativa, considerando o nicho de mercado destas obras e todas as condicionantes. A resposta dos leitores tem sido muito positiva, e estas obras têm conseguido despertar discussão, um interesse mais profundo. As pessoas, depois de comprar o livro, não o esquecem na prateleira, e eu penso que esse é um ponto principal: conseguimos gerar uma resposta dos leitores em língua portuguesa.
O segundo ponto é o estilo de tradução que se adoptou para essa obra. Regra geral, quando falamos de traduções de texto chinês, a ênfase é dada ao texto original. Mas os textos chineses têm uma característica de intertextualidade, de transtextualidade, que multiplica bastante o volume desse texto. Por exemplo, no texto original, os “Analectos” têm apenas 10.000 ideogramas, mas, se agregarmos a riqueza dos comentários que foram sendo progressivamente feitos sobre esse livro, o texto expande-se para centenas de milhares de caracteres.
De modo que o que há de peculiar neste trabalho é que, para além de ter traduzido o texto original, elaborei também um comentário corrido a todas as passagens. Nesse comentário corrido, para além das explicações tradicionais dos pensadores chineses, agreguei também uma riqueza de informações sobre história, sobre linguística chinesa, sobre questões como, por exemplo, instituições, o impacto deste texto, a sua significância no contexto da vida social chinesa.
Quando esta tradução saiu, em 2012, na sua primeira edição, era um tipo de trabalho sem paralelo, não apenas em português, mas também nas principais línguas ocidentais. Há também questões internas ao texto: as pessoas não sabem que, por detrás da tradução, existe uma série de considerações metodológicas e pragmáticas sobre o texto. Penso que estes dois lados, embora relacionados, garantiram que esta tradução de “Os Analectos” conseguisse, mais ou menos, assumir um estatuto elevado.
Como vê a percepção, no panorama internacional, que se tem da cultura chinesa, nomeadamente na área da literatura?
Eu sou brasileiro e estes meus livros foram lançados no Brasil, mas tento assumir uma perspectiva um pouco mais ampla. Temos um campo de sinologia em língua portuguesa e eu procuro considerar mais ou menos as expectativas, em geral, do público de língua portuguesa. Atrevo-me até a dizer que temos um conhecimento relativamente limitado da China, apesar da intensidade das relações. Vejo que, de forma geral, as nossas impressões da China estão mais ou menos vinculadas a estereótipos.
Por exemplo, quando uma pessoa vê um livro como o “Tao Te Ching” – conhecido também como o “Livro do Caminho e da Virtude” –, tem uma expectativa de que aquele livro fale um pouco sobre misticismo oriental, uma visão mais essencialmente abstracta e espiritual. Essas expectativas são úteis pois podemos potenciá-las justamente para que esse trabalho atinja esse público-alvo mais directamente interessado na China.
Contudo, temos também de fazer outro trabalho, que é o de mostrar o que está além desses estereótipos: uma história intelectual muito rica que os chineses possuem, a eterna actualidade dessas obras. É algo interessante para nós, dos países de língua portuguesa, ver que os chineses de hoje lêem uma obra com 2500 anos para procurar respostas para a vida, para o trabalho, etc. Penso que essa eterna actualidade destas obras tem uma razão de ser, dado o contexto cultural chinês; é algo que desperta interesse nas pessoas, gera discussões mais profundas e, de facto, promove efectivamente essas trocas culturais.
Considera que as traduções e publicações têm contribuído para a compreensão da cultura chinesa junto dos países de língua portuguesa? É essa uma das suas intenções?
Esforço-me ao máximo, em primeiro lugar, para que, nestes trabalhos, tenha uma visão o mais profissional e objectiva possível. Fujo dos subjectivismos, não interfiro de forma alguma no que está a ser dito; tento, da forma mais sincera possível, explicar, transmitir aos leitores de língua portuguesa como estes livros são entendidos, discutidos e debatidos em chinês. Penso que essa é uma força deste trabalho, uma qualidade positiva.

Pode contar-nos mais sobre o seu novo trabalho dedicado à poesia de Lu Xun e o que o motivou a dramatizar as suas obras?
Trata-se de uma colectânea de contos lançada em 1923, em que se utilizou pela primeira vez a nova língua literária chinesa, uma língua decalcada do idioma coloquial, do idioma falado. Portanto, tem uma importância histórica muito grande. Em segundo lugar, o Lu Xun foi o primeiro grande intelectual público da história chinesa, teve uma série de experiências de vida muito interessantes. Posso dizer que era um espírito livre, uma pessoa com uma atitude muito crítica, perante si próprio, em primeiro lugar, e perante a própria cultura, em segundo lugar. Era um observador agudo das transformações políticas do país, e esse é um pouco o pano de fundo para as histórias reunidas nessa obra traduzida em português como “Grito”.
Depois de trabalhar tantos anos com a literatura clássica, porque decidi trabalhar um texto relativamente recente, com cem anos? Isso tem a ver com o desenvolvimento dos meus interesses intelectuais sobre a China. Quando vim para a China, tinha mais ou menos essa convicção de que o que a China tinha de melhor para oferecer era o seu pensamento antigo, as artes tradicionais, a música, a caligrafia — e isso colocou-me numa situação em que relegava para segundo plano o que foi feito na China nos últimos duzentos anos. Tinha essa impressão de que, num determinado momento dos últimos dois séculos, houve uma quebra radical com a cultura clássica. Muitas pessoas pensam dessa forma. No entanto, tanto pelo meu trabalho de tradução como pelas leituras e produção académica, dei-me conta de que esses autores – por exemplo, toda a geração de Lu Xun – receberam educação clássica. Apenas quando chegaram aos 15, 16 anos, devido à realidade da época, procuraram uma educação no novo modelo, inspirado nos modos ocidentais.
O que me interessou aí foi perceber que esse processo de crítica à cultura tradicional não era uma simples rejeição peremptória ou ruptura, mas sim uma atitude de negociação entre a identidade tradicional e a nova identidade que estavam a tentar construir. O que me fascinou nesse processo foi notar que esses intelectuais também eram sofisticados e tinham uma produção muito sofisticada em relação à cultura tradicional. Por exemplo, Lu Xun também escrevia poesia e tinha interesses em arqueologia. Compilou estelas – aquelas pedras em que os chineses fazem inscrições – e todo o tesouro das novelas e romances arcaicos chineses.
Podemos ler o “Grito” como uma obra da nova literatura, mas também podemos lê-la como uma reacção à cultura tradicional, uma absorção do que essa cultura tinha de melhor segundo Lu Xun. Ou seja, ao passarmos para esta cultura do final da dinastia Qing e do período republicano, vemos que há estas questões de intertextualidade e transtextualidade que continuam a actuar. Isso, intelectualmente, é muito estimulante e interessante. O produto final não revela necessariamente tudo isso ao leitor, mas, no meu caso, a motivação para fazer este trabalho está precisamente aí: em notar essa continuidade, essa coerência intelectual, artística, estética, que atravessa esses 2500 anos.
Que planos tem em termos de tradução e investigação? Há novas obras que gostaria de traduzir?
Planos para o futuro são muitos. Estão já em andamento. Tenho uma nova edição de “A Arte da Guerra”. Já existem muitas versões no Brasil, muitas em Portugal. O que vou tentar fazer desta vez é agregar o tesouro dos comentários clássicos, incorporar um longo texto que chamo de “Biografia de Sun Tzu”, de quem não existe uma biografia consistente.
Vou tentar explicar um pouco a carreira político-militar de Sun Tzu, a questão da guerra no período em que viveu, a transição entre a era da Primavera e Outono e a era dos Reinos Combatentes. Vou agregar informações sobre o desenvolvimento do regime, das instituições militares na China, às quais Sun Tzu deu uma contribuição muito importante.
E falarei um pouco mais sobre o lado filosófico da obra. Há um debate intelectual na China sobre se Sun Tzu teria sido ou não um dos mestres. Temos o confucionismo, o taoismo, o legalismo, a escola do yin-yang […] mas, originalmente, os chineses não reconheceram Sun Tzu como um dos mestres. Colocaram-no apenas como um pensador militar, um anexo das artes pragmáticas. O que vou tentar fazer agora é resgatar esse legado intelectual de Sun Tzu com base no que aconteceu quase dois mil anos depois.
O segundo trabalho continuará neste campo do período moderno da China. Depois de Lu Xun, vou trabalhar com um autor chamado Liang Qichao, extremamente importante para o desenvolvimento intelectual da China no período republicano, e o primeiro grande jornalista do país.
Numa perspectiva mais abrangente, qual o papel que a educação e a tradução desempenham actualmente na promoção do intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa?
Como alguém de um país de língua portuguesa, acho que perdemos uma óptima oportunidade de criar uma sinologia em língua portuguesa. Macau, no século XVII, era o lugar de onde irradiavam os textos da China. Tivemos missionários portugueses que produziram livros sobre a China, mas em latim. O grande público não tinha acesso a essas obras.
Depois, no século XVIII, as coisas tomaram outro rumo. No século XIX, houve uma radicalização desse processo. No século XX, temos poucas personalidades que tentaram contribuir para a sinologia em língua portuguesa. Acho que o primeiro passo é a tradução. Precisamos de ter, em português, textos profissionais, bem feitos, acessíveis, que reflitam uma experiência mais profunda na China, um conhecimento mais profundo do idioma, uma maior intimidade com as histórias e ideias, com o tipo de debate intelectual que se faz na China.
Isso explica a minha ênfase, neste momento, no trabalho de tradução e não em preparar obras mais gerais, explicativas. Precisamos primeiro dos textos fundamentais. Precisamos de mais pessoas que, mesmo sem querer especializar-se em sinologia, tenham acesso a essas obras, textos interessantes para o leitor comum, que permitam uma visão mais profunda sobre a China. A tradução é uma resposta às necessidades do momento. Com a acumulação destas obras, mais colegas a fazer este tipo de trabalho e uma comunidade crescente com uma visão mais objectiva e crítica sobre a China, estamos ainda a lançar os alicerces da sinologia em língua portuguesa e daí a importância da tradução.
E Macau pode ajudar nesse processo?
Sem dúvida, Macau já teve um papel central nesse fluxo de ideias chinesas para o Ocidente. No século XVII, tivemos aqui isso. Temos de reconhecer que os jesuítas contribuíram muito. Os primeiros grandes sinólogos vieram da Companhia de Jesus. Infelizmente, Portugal quebrou esse vínculo. Acho que isso interferiu no treino dos nossos sinólogos. O Brasil tinha ainda maior dificuldade em chegar à China. Estamos a correr contra o tempo e a tentar recuperar.
Estou em Macau há quase 12 anos. Temos uma comunidade dos países de língua portuguesa dinâmica, interessada em fortalecer esse intercâmbio. A ideia agora é expandir essa produção, fazer chegar ao grande público de língua portuguesa o que é produzido em Macau.
Como brasileiro, farei esse trabalho no meu país. Vejo com alegria o que está a ser feito em Portugal, académicos que também estão a tentar fazer esse trabalho, a criar pontes. E a ideia é essa: criar sinergias a partir de Macau, integrar melhor Brasil, Portugal, os PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa], e ver como conseguimos desenvolver conjuntamente a sinologia.